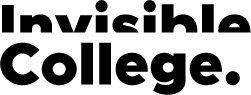Por Bruno Maroni, colaborador do Invisible College
Já aprendi muito a respeito de cultura com o Ricardo, seja lendo seus livros ou conversando em algum café aqui de Jundiaí. Sabe quando você sai de uma conversa com alguém com a sensação de que acabou de ler um livro? Lembro de me sentir exatamente assim nas vezes em que me encontrei com o Ricardo. Ele é jornalista e já atuou nos principais veículos de comunicação aqui do Brasil, como repórter, colunista e diretor de redação de revistas — entre elas, a Revista Bizz, antiga publicação de música e cultura pop. Hoje ele atua como roteirista do programa Conversa com Bial, da TV Globo, e conduz o podcast Discoteca Básica (que eu recomendo fortemente).
Ricardo Alexandre é autor de Dias de Luta: o Rock e o Brasil dos anos 80 (2002), Nem Vem Que Não Tem: A Vida e o Veneno de Wilson Simonal (2010), Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar: 50 Causos e Memórias do Rock Brasileiro (1993-2008) (2013), Tudo é Música e Nem Tudo é Música (2018), além do recente E a Verdade os Libertará: Reflexões Sobre Religião, Política e Bolsonarismo (2020). Com toda sua experiência em crítica, curadoria e produção cultural, Ricardo falou um pouco comigo sobre a importância da cultura pop, tecnologia e entretenimento, os desafios da igreja evangélica na interação cultural, novos hábitos para a apreciação da cultura, e — como não podia faltar — música! Confira aqui como foi essa conversa!
1) Você já disse uma vez que a cultura popular é digna da nossa atenção porque é a “cultura do povo”, e a gente precisa saber do que o povo está falando. Mas quais os principais desafios de se pensar cultura pop hoje? Qual é o papel do entretenimento na formação da sociedade?
A importância da cultura pop é que o pop é por definição uma síntese de culturas populares. Ele é quase sempre uma porta de entrada para manifestações e mídias diferentes. Então, o pop é, por definição, palco e estúdio, alta e baixa cultura, produção e execução, brancos e negros. Podemos desdobrar isso em artes plásticas, quadrinhos, sociedade de consumo, comportamento, proposta e resposta. A cultura pop é um nó de diversas teias, de diversas redes. Por isso ela é um caminho de cultura acessível para muita gente. Então esse é o grande papel da cultura pop: nos colocar diante de reflexões e provocações que não nos chegariam por meio da alta arte, da alta cultura.
A dificuldade de pensar arte pop atualmente — atualmente não, acho que desde de sempre! — é o risco de pensarmos em termos de mercado. Justamente por a arte pop se relacionar tanto com o mercado, eu acho que se corre o risco de pensar na cultura pelas lógicas do alcance, da padronização e do volume — que são próprias do mercado. Ainda mais hoje, quando as métricas são tão acessíveis, os analytics estão disponíveis. Isso não é arte. Por mais que a arte pop se relacione com o mercado, falar/pensar cultura ainda precisa ser visto de um ponto de vista espiritual. Espiritual no sentido de não-material, não quantificável.
2) Você acha que os avanços tecnológicos e a intensificação do mercado favoreceram ou prejudicaram o acesso ao entretenimento?
Eu vejo duas ações (principais) dos avanços tecnológicos. Do ponto de vista da disponibilidade, eu acho que a internet é maravilhosa, do ponto de vista das relações do artista com seu público. O artista consegue se aproximar mais diretamente do seu público e o público consegue ter acesso ao artista e sua obra. Entretanto, eu creio que a quantidade dilui o valor (isso é uma regra matemática). Quando você tem algo em extrema disponibilidade, esse algo perde o valor agregado, atribuído. Sinto que é o que tem acontecido com a arte de maneira geral. Qualquer um produz um disco hoje em dia, essa é a verdade. Qualquer um lança um disco. Isso não é mais notícia, não é mais extraordinário como já foi um dia. Este é um ponto a ser considerado, sem dúvida nenhuma.
Ninguém mais pára para discutir um disco novo que é lançado, como acontecia há 30 anos. É tipo “mais um” — aliás, mais um entre os vinte que saíram hoje. Mais um entre os 20 que eu vou ouvir hoje (porque na verdade saiu muito mais, mas eu não tenho tempo para ouvir). E eu acho também que tem o aspecto da falta de filtro que o funil da indústria propunha para o artista. Quando você tinha escassez de estúdio ou de matéria-prima do vinil, era obrigado a propor um filtro. Como os espaços são, em tese, virtuais hoje em dia, os filtros não existem. Se você quiser lançar o seu projeto de dance music cantado em javanês e tocado fazendo barulho de bexiga debaixo da água, você vai tocar — e vai lançar, sabe? Então, eu sinto falta da curadoria, da direção artística humana, porque a curadoria hoje é feita pelos algoritmos, e os algoritmos são viciados naquilo que você já manifestou para eles.
3) O que há de singular na espiritualidade cristã que pode refinar nosso entendimento e apreciação da cultura pop?
Eu não sou um estudioso das religiões, mas… acho que arte é espiritualidade, o que não é espiritualidade é mercado! E digo isso sem juízo de valor. Não estou dizendo que um é bom e outro é mau. Mas, o mercado é quantificável, ele é tangenciável pelos cinco sentidos. Ele é empilhável, verificável pelo Excel, submisso aos olhos, ao tato, ao paladar… Logo, ele não é espiritual. Ele é material.
E quando a gente fala de arte pop, falamos exatamente da junção — da intersecção — entre criatividade e mercado. É nessa intersecção que esses dilemas, questões e desafios aparecem com mais exuberância. Porque ninguém que aprende oboé para tocar na sinfônica da sua cidade está muito preocupado com as questões de mercado, entende? Mas na arte pop está! E eu acho que é exatamente nesse exercício que a espiritualidade se faz mais necessária, para romper um ciclo de materialidade fria. Então é assim: “A gente quer vender 1 milhão, mas… a gente quer vender 1 milhão do nosso jeito”, sabe? Esse confronto é espiritual. Esse confronto só é possível devido à espiritualidade.
Não é possível que um diretor de gravadora diga: “Olha, este artista até agora não vendeu nada, mas eu vou renovar o contrato com ele, porque eu acredito que ele tem algo que irá nos render a longo prazo”. Não é quantificável, é fruto de espiritualidade. Isso é uma das coisas que me leva para o cristianismo, porque o cristianismo é a dimensão — o Reino de Deus é a dimensão — na qual o próprio Deus diz: “Vocês observam a sociedade e veem como os poderosos subjugam os mais fracos? Não será assim entre vocês!”, “Quem quiser liderar, que sirva”, “Bem-aventurados os que choram”.
Então a mensagem de Jesus é o contrário dessa lógica fria do mercado. Tanto que quando chega em Apocalipse e a grande Babilônia é derrubada, ninguém compra e ninguém vende. Interessante isso. Acho que é dentro desse território interseccional da criatividade com o mercado que ficam mais visíveis as possibilidades de confronto cortês do tipo: “Eu quero vender, mas eu quero vender sem abrir mão das minhas convicções!”, “Eu quero ficar na televisão, mas sem fazer papel de palhaço”, “Eu quero ter milhões de seguidores, mas quero manter minha dignidade…”. Essa discussão é fundamental, fundamental!
4) Podemos dizer que aqui no Brasil a participação evangélica na cultura popular se dá na administração de uma subcultura ou até mesmo um nicho de mercado. Na sua opinião, quais os vícios impregnados na igreja que colaboraram para a manutenção dessa postura?
Eu acho que a subcultura cristã acontece embaixo de uma constituição histórica, geográfica, influências missionárias e influências culturais. Como toda subcultura, que não é só o que se professa: é o que se professa misturado a forças culturais que acontecem quase que à revelia dela. Dentro disso que você me pergunta (quais forças culturais fortalecem a sensação de subcultura, de manifestação à margem)… penso que a própria necessidade de afirmação comunitária. Essa afirmação comunitária, no meu entendimento da Bíblia, se dá para fora da comunidade.
Quando Jesus diz que “Assim brilhe a luz de vocês pra que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus”, é como se estivesse dizendo: “O campo de ação de vocês é para fora! O perfil psicográfico da pessoa para quem vocês vão falar não é o crente, é o descrente.”. Acho que a cultura evangélica inverte essa seta. O destinatário final da nossa mensagem — da nossa música, do nosso discurso, do nosso palavreado — é o crente. Então tomamos decisões pensando no crente, usamos jargões compreensíveis pelo crente. A gente caminha e se pronuncia publicamente pensando na repercussão que isso vai ter para os crentes. A gente tem coragem (ou medo) do que pode acontecer com os crentes!
Isso é um trato identitário, uma combinação de reforço das características comunitárias: “Nós somos assim, o mundo é assado. Nós gostamos do vermelho, porque o mundo gosta do verde”. É sempre um esforço de diferenciação pensando no fortalecimento desse laço identitário. Eu acho que esse é um traço cultural muito forte que, numa última instância, acaba impedindo que a gente ofereça produtos culturais minimamente interessantes e relevantes para sociedade, porque não estamos falando para sociedade — estamos falando para nós mesmos!
5) Por outro lado… que virtudes você entende que os discípulos de Jesus precisam cultivar a fim de estabelecerem uma participação criativa — como “consumidores” ou “produtores” — na cultura pop?
A participação cristã na sociedade é planejada por Jesus para que desperte a admiração da sociedade. A ideia é que as pessoas olhem para o que é produzido pelos cristãos e glorifiquem a Deus que está no Céu, que a vida prática, que o estrato social das pessoas da igreja aponte sempre para Deus. Podemos entender isso de diversas maneiras: a excelência no fazer, a lisura na maneira com que você faz, a inteligência, o preparo.
Muitas vezes eu me pego pensando: “Cara, eu vejo muitas ideias mais lucrativas do que as minhas que não envolvem oferta de trabalho”. Entrar numa banheira e tomar banho de Nutella… você está oferecendo o que para as pessoas?! Acho que é sempre nessa visão de serviço. Nós estamos numa missão de serviço. Falta no meio cristão evangélico em especial (e eu digo em especial porque é o que eu conheço melhor), menos uma visão de direitos a reivindicar e mais uma visão de serviço, de como servir. Nunca vemos a bancada evangélica brigando por espaço para servir, só brigando por direitos a reivindicar!
Então o que me motiva como cristão é despertar nas pessoas um senso de glorificação a Deus por meio do meu trabalho, por meio do meu exercício profissional, do que eu falo, dos passos que eu dou. Mas sempre com uma visão que parte da oferta que eu estou fazendo à sociedade. Penso que é isso. Não só na cultura. Digo “cultura” porque é o meio onde estou inserido, mas acho que o carro fabricado pelo cristão deveria ser melhor e oferecer mais coisas do que o carro fabricado por um ateu, por um ímpio. A casa fabricada por um cristão deve ter mais qualidade na estrutura do que aquela feita por uma pessoa que não foi alcançada pelo evangelho. Isso que Jesus fala no Sermão do Monte, sobre ser sal e luz.
Outra coisa que me move (e que eu acho que é pouco falado nas comunidades) são os valores do Reino de Deus. Os valores do Reino de Deus são “sinalizáveis” em todas as esferas da sociedade. Como é que funciona uma cafeteria no Reino de Deus? Como funciona uma pizzaria no Reino de Deus? Como funciona a relação patrão-empregado no Reino de Deus? Como funciona a indústria cinematográfica no Reino de Deus? Como é um documentário sobre moradores de rua de acordo com o Reino de Deus? Como é um debate político no Reino de Deus? Será que é feito com base em fake news, memes e ridicularização do oponente?! Eu tenho dúvidas.
Sempre me pergunto isso: “Como esse projeto sobre bandas novas funcionaria no Reino de Deus?”. Eu sempre cito como exemplo o programa que eu ofereci na 89 (Rádio Rock), o Ouve Essa. Era um espaço para artistas novos, porque entendi que a programação das rádios de rock estava viciada no mesmo repertório há 20 anos. Então eu pensei: “Isso é errado, é preciso furar esse bloqueio para que novos artistas surjam, para que o público tenha acesso a artistas que não teriam na programação normal”.
Essa é uma forma de responder: “Como seria uma programação de rádio de rock no Reino de Deus?!” — me parece que seria menos inerte do que hoje em dia! É isso que eu penso e que sinto falta nas discussões entre nós, cristãos.
6) Hoje a gente corre o risco, mesmo com tanta cultura disponível, de interagir com a arte, por exemplo, nos moldes de um processamento de dados. Talvez a alternativa a esse consumo vazio seja a mudança de “hábitos culturais”. Que hábitos você considera indispensáveis para que a gente de fato aprecie — experimente beleza e aprenda — cultura?
Acho que o grande risco que a gente corre é perder a relação coletiva que tínhamos em relação à música, de discutir, de conversar… A experiência que eu tenho com jovens ouvintes do Discoteca Básica é a de que nem passava pela cabeça deles que fosse possível conversar sobre música, sabe? Isso foi muito chocante para mim, porque talvez uma das coisas que tenha me aproximado da música é a possibilidade de conversar sobre ela. Não existia na minha adolescência a possibilidade de ouvir um disco sem compartilhar com alguém, sem chamar alguém para ouvir o disco em casa!
Esse processo cada vez mais solitário de ouvir no seu aplicativo, no seu celular, é um problema, porque quebra o aspecto quase que comunitário da música: extrair cultura da música, transformar aquilo em cultura coletiva. Isso hoje exige disciplina: algo que a gente faz por que é importante fazer. Por outro lado, as outras artes também passam por uma reinvenção por causa do celular. Por exemplo, o cinema. Faz sentido fazer cinema para ser assistido pelo celular?! É uma pergunta interessante. A miniaturização e a praticidade de tudo é algo para ser revisto. Não estou dizendo que estamos aqui para mudar essa tendência, mas para que a gente (que vive, respeita e debate cultura) tente remar contra a corrente, trilhar esse caminho estreito.