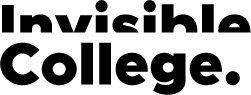Ensaio filosófico escrito por Lucas Macedo da Silva, estudante do Programa de Tutoria Filosófica 2024
Introdução
A autoconsciência é uma das características que distingue os seres humanos dos animais. Jordan Peterson aponta essa diferença usando como exemplo os cães e os gatos. Eles são predadores, ou seja, matam e comem. Mesmo assim, os tomamos como animais de estimação. Segundo o autor, essa é a natureza de um predador e, consequentemente, eles não podem ser responsabilizados por isso. Eles estão com fome, não são maus (Peterson, 2018, p. 55). Para ele, percebemos o aspecto sombrio da autoconsciência quando olhamos para a questão do mal. Existe uma criatividade malévola na humanidade. Somos capazes de criar instrumentos de tortura que só a nossa autopercepção é capaz de gerar. Sabemos o que dói em nós mesmos e podemos aplicar isso no outro. Portanto, somos culpados em promover o mal intencionalmente.
A consciência em primeira pessoa é a capacidade de se relacionar com o outro e a habilidade de interagir intencionalmente com o mundo ao nosso redor. Ela também nos permite interpretar as nossas ações e relações. Para os marxistas, por exemplo, a consciência de classe é a iluminação necessária para o trabalhador ser desperto para a realidade do mundo ao seu redor. Com isso, ele terá a capacidade de perceber as relações de exploração em que tem sido submetido pela burguesia e, através dessa nova consciência, ter a capacidade de agir e tomar o que é seu por direito.
A questão da consciência e da autoconsciência é espinhosa. Mesmo com os avanços da neurociência e das ciências da mente, esses conceitos carecem de boas respostas. Segundo Roger Scruton:
Suponhamos que um dia possamos fazer um relato completo do cérebro em termos de processar a informação digitalizada entre input e output. Poderemos então renunciar da postura intencional ao descrevermos os mecanismos desse objeto, assim como o termostato. Mas não estaremos descrevendo a consciência de uma pessoa. Estaremos descrevendo algo que ocorre quando as pessoas pensam, e que é necessário para o pensamento delas. Mas não estaremos descrevendo o pensamento delas da mesma forma que não estaríamos descrevendo o nascimento de Vênus ou a teoria do amor erótico de Platão quando especificamos todos os pixels em uma versão em monitor da pintura de Botticelli (Scruton, 2019, p. 74).
Em outras palavras, aquilo que vemos pelo olhar da ciência é o “como” não o “por que”. Nesse sentido, a filosofia reformacional propõe uma resposta a esse grande “por que”. Seguindo a tradição iniciada por Agostinho, o filósofo e teólogo Jonas Madureira propõe que, do ponto de vista reformacional, o conhecimento de Deus tem consequências diretas nas questões do autoconhecimento (Madureira, 2017, p. 189). Se isso é verdade, quais são as suas implicações?
Conhecimento em primeira pessoa
Toda pessoa é dotada de subjetividade, ou seja, temos uma visão privilegiada do mundo que ninguém mais possui. Quando vou ao banheiro de casa e me olho no espelho, o que vejo sou eu. Quando ergo minha mão direita, o que observo é o reflexo repetir o mesmo gesto ao mesmo tempo. Eu não posso enganar o espelho, porque a pessoa que está se movimentando através do reflexo é o mesmo sujeito que efetua a ação mediante o comando ao cérebro.
Mas o que fazer quando nos vemos no espelho e não reconhecemos a imagem refletida? O conhecimento em primeira pessoa não significa conhecimento verdadeiro sobre si mesmo. Lidando com distúrbios alimentares, por exemplo, podemos observar os problemas da autopercepção em relação ao autoconhecimento. A anorexia é um exemplo claro disso. A distorção de imagem causada pela doença torna a pessoa obcecada pelo próprio peso e pelo que come.
Problemas neurológicos também afetam tanto a autopercepção quanto a memória, tornando, assim, o conhecimento em primeira pessoa limitado. O neuropsicólogo A. R. Luria nos apresenta um caso trágico, porém, fascinante de um paciente chamado Zasetsky, vítima de um estilhaço de bomba que destruiu parte do seu cérebro. As consequências neurológicas foram exploradas no livro O homem com um mundo estilhaçado (2008). Em seu relato pessoal, o paciente nos conta que
Às vezes, quando estou sentado, de repente acho que minha cabeça está do tamanho de uma mesa — [every bit as big] — enquanto minhas mãos, pés e costas se tornaram muito pequenos. Quando me lembro disso, eu mesmo acho cômico, mas também muito esquisito. Esse é o tipo de coisas que chamo de “peculiaridades corporais”. Quando fecho os olhos, nem sempre estou certo de onde está minha perna direita; por alguma razão costumava pensar (e até mesmo sentir) que ela estava em algum lugar acima de meu ombro, ou mesmo acima da minha cabeça. E nunca conseguia reconhecer ou compreender aquela perna (o pedaço que vai do pé até o joelho) (Luria, 2008, p. 58).
A subjetividade é uma posição privilegiada e individual, porém, nem sempre reflete a realidade.
Conhecimento em terceira pessoa
Com a popularização e o avanço da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise, a ideia de que o sujeito tem o melhor conhecimento sobre si foi desafiada. Se o conhecimento subjetivo não pode ser confiado plenamente, logo, uma visão da terceira pessoa passa a ser o método preferível para análise. Nosso comportamento, que muitas vezes é inconsciente, diz muito mais sobre quem somos e, por corolário, um observador de fora é capaz de nos mostrar realidades que a primeira pessoa não seria capaz de ver sozinha.
Mas isso levanta muitas questões. O analista também é um sujeito de primeira pessoa. Se o autoconhecimento é falho, como posso confiar que esse conhecimento sobre outrem também não o é? Em outras palavras, colocar o psicólogo numa posição de observador isento e neutro não poderia ser tão enganoso ou possuir tantas suposições inconscientes quanto o seu próprio conhecimento de si? Como apontado por Roger Scruton, a neurociência também falha em encontrar o lugar do self:
Palavras como “eu”, “escolher”, “responsável”, e assim por diante, não tem qualquer participação na ciência neurológica, o que pode explicar por que um organismo pronuncia essas palavras, mas não pode oferecer nenhum conteúdo material sobre elas. De fato, um dos erros mais recorrentes na neurociência é o de olhar para os referentes dessas palavras — em busca do lugar no cérebro onde o self reside, ou então o correlato material da liberdade humana (Scruton, 2019, p. 77).
Assim, as tentativas da neurociência de explicar o ser humano através de sinais encontrados no cérebro são insuficientes para explicar o self.
Agostinho e o autoconhecimento
“Que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como de ti sou conhecido” (AGOSTINHO, 2020, p. 51). É com essas palavras que Agostinho inicia o livro X das Confissões, principiando uma longa tradição na filosófica cristã reformada. O autoconhecimento na obra do bispo de Hipona é dependente de Deus. Nas suas palavras:
Tu és, Senhor, quem me julga, porque embora nenhum homem a não ser o espírito do homem que conheça o que se passa no homem nele está, contudo, há no homem coisas que até o espírito que nele habita ignora. Mas tu, Senhor, que o criaste, conheces todas as suas coisas, e eu, embora em tua presença me despreze e me considere terra e cinza, sei algo de ti que ignoro em mim. É certo que agora vemos por espelho, em enigmas, e não face a face, pelo que, enquanto peregrino fora de ti, estou mais presente a mim do que a ti. Contudo, sei que em nada podes ser prejudicado, mas ignoro a que tentações posso resistir e a quais não posso (Agostinho, 2020, p. 56).
Para Agostinho, e também para a filosofia reformada, Deus é o único capaz de ter uma posição privilegiada e, por isso, a única referência capaz de escrutinar corações. No cerne do autoconhecimento cristão está a relação do homem com aquele que o criou. Como nos mostra o teólogo brasileiro, diante da incapacidade de enxergar-se adequadamente, o homem deveria ser “induzido à humildade e à suspeita de si mesmo”, assim como afirma Calvino (Institutas 1.1.1–3), além de provocar a saudável suspeita em relação a si próprio (Madureira, 2017, p. 200).
Como explica o teólogo Igor Miguel (2022), podemos encontrar em Calvino a mesma ressonância em relação ao autoconhecimento. Para o teólogo francês, existe uma interpolação entre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento. Mas, como explica Jonas Madureira, esse autoconhecimento, mesmo dependente de Deus, não é fideísta, ou seja, ele não exige a morte da razão para acomodar uma visão religiosa. Ao contrário, é um movimento de admissão da fragilidade da razão e o reconhecimento de seus limites.
Na tradição cristã, os seres humanos foram afetados pela Queda. Essa seria a razão do autoconhecimento ser falho tanto em primeira quanto em terceira pessoa. É válido notar que algumas correntes filosóficas argumentam que a relação em segunda pessoa é a chave para encontrar o ser e o outro. Em A alma do mundo (2019), Roger Scruton argumenta nessa linha, porém, se a tradição está correta, mesmo essa perspectiva, por mais atraente que seja, vai incorrer nos mesmo problema das outras escolas de pensamento. A relação Eu-Tu também é distorcida pela Queda e carece de redenção.
Por isso, para Agostinho e para o cristão de maneira geral, a única maneira de obter o autoconhecimento verdadeiro é através da conversão. James K. A. Smith, no prefácio de No crepúsculo do pensamento ocidental (2018), de Herman Dooyeweerd, explica que, na filosofia cosmonômica do pensador holandês, todo pensamento teórico, em última instância, está fundado em compromissos pré e supra teóricos, o que também é chamado de compromissos do coração (Dooyeweerd, 2018, p. 29–30). Com isso, apenas restaurando a direção dos corações é possível ter uma relação com Deus, que também restaura a possibilidade do verdadeiro autoconhecimento.
Conclusão
Apesar de ser uma proposta radical, através da filosofia cosmonômica somos capazes de dar respostas sólidas às questões sobre o autoconhecimento. Ainda no livro X das Confissões, Agostinho diz que a Palavra de Deus feriu o seu coração e, depois disso, ele passou a amá-Lo (Agostinho, 2020, p. 56). Após ser ferido por Deus, o bispo de Hipona foi capaz de se ver verdadeiramente, bem como todos os seus vícios e sua pequenez diante daquele que o vê por completo e sem máscaras. Segundo ele, fomos feitos para Deus e nossos corações estarão sempre inquietos enquanto não encontrarmos descanso Nele (Agostinho, 2020, p. 19).
Em uma sociedade onde as pessoas se sentem cada vez mais cansadas e com graves problemas de autoconhecimento e com selfs distorcidos, Agostinho e a tradição reformada apontam a direção daquele que diz: “venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve” (Mateus 11:28-29).
Acreditamos que o estudo teológico é fundamental para todo cristão, e não apenas para pastores ou líderes. Afinal, a teologia nos ajuda a seguir a Cristo em todos os aspectos da nossa vida!
No Loop, nossa equipe oferece suporte pedagógico e trilhas de estudo personalizadas para seus interesses, permitindo que você aprofunde seu conhecimento teológico e lide de forma segura com as situações do dia a dia.
Referência bibliográfica
AGOSTINHO. Confissões, vol. 1. Tradução Frederico Ozanam Pessoa de Barros. Rio de Janeiro: Petra, 2020. 248 p;
AGOSTINHO. Confissões, vol. 2. Tradução Frederico Ozanam Pessoa de Barros. Rio de Janeiro: Petra, 2020. 248 p;
DOOYEWEERD, Herman. No crepúsculo do pensamento ocidental: estudo sobre a pretensa autonomia do pensamento filosófico. Tradução Guilherme de Carvalho e Rodolfo Amorim de Souza. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018. 276 p.
LURIA, Aleksandr Romanovich. O homem com um mundo estilhaçado. Tradução Lólio Lourenço de Oliveira. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 160 p.
MADUREIRA, Jonas. Inteligência Humilhada. São Paulo: Vida Nova, 2017. 336 p.
MIGUEL, Igor. É possível relacionar Agostinho e Calvino na questão sobre o conhecimento de si mesmo? – Igor Miguel. Invisible College. 1 vídeo (2:49). Disponível em: É possível relacionar Agostinho e Calvino na questão sobre o conhecimento de si mesmo? – Igor Miguel
PETERSON, Jordan B. 12 regras para a vida: um antídoto para o caos. Tradução Wendy Campos, Alberto G. Streicher. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 448 p.
SCRUTON, Roger. A alma do mundo. Tradução Martim Vasques da Cunha. Rio de Janeiro: Record, 2019. 238 p.