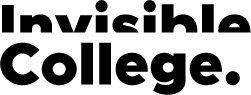Artigo escrito por Jônathas Souza, estudante do Programa de Tutoria Avançada 2024
A teologia se preocupa com a Verdade. Ser teólogo é, desde o início, procurar ser fiel à fonte primária de revelação para entender quem Deus é e como devemos respondê-lo adequadamente. Por essa preocupação com a verdade, há uma forte afinidade entre a Teologia e outras ciências, onde a expectativa de objetividade é crucial para um resultado fiel e que se aproxima da realidade. Essa expectativa tem levado cientistas e teólogos a abraçarem o cientificismo, afirmando a ciência como superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender o mundo cognoscível. Assim, não há espaço para subjetividade, visto que o método científico alicerçado na razão humana seria capaz de produzir conhecimento válido.
Entretanto, essa visão não condiz com a realidade, visto que é impossível desgarrar a pessoa do seu fazer científico/teológico, e o próprio cientificismo é por si só um compromisso pessoal de fé. Uma epistemologia impactada pela subjetividade não é um problema, mas algo natural e planejado por Deus. Assim sendo, este artigo propõe uma forma de pensar a expressão teológica de uma cosmovisão cristã que não se baseia apenas na objetividade, mas também se alavanca nas subjetividades do ser humano a partir dos conceitos de conhecimento tácito e conhecimento pessoal de Michael Polanyi1 e o triperspectivismo de John Frame2.
Cientificismo teológico
A era moderna viu uma mudança impactante com o surgimento de uma ciência empírica cartesiana e a revolução copernicana kantiana, que colocou a ciência, feita por mentes racionais, como fonte absoluta da verdade3. A busca por um conhecimento fundamentado na racionalidade humana não se limitou às ciências duras4, mas também impactou as ciências humanas. O que se viu foi um apego dogmático a uma pretensa racionalidade livre de vieses. Com a teologia não seria diferente. Só se deveria erigir o edifício teológico “quando os conhecedores humanos deliberadamente [pusessem] de lado todas as pressuposições e preconceitos perniciosos, livrando-se de todas as tradições e narrativas onerosas5. Esse “preconceito contra o preconceito”6 impactou a teologia e buscou com que ela se livrasse dos vieses, esperando que o teólogo se distanciasse o máximo possível para chegar o mais próximo da “verdade”.
Entretanto, a autocompreensão e o florescimento do ser humano são profundamente prejudicados quando a moralidade e a experiência religiosas são descredibilizadas em nome dessa “atitude científica”7. Na verdade, o projeto de uma ciência exata é fundamentalmente enganoso, e “o ideal de eliminar todos os elementos pessoais de conhecimento visaria, com efeito, à destruição de todo o conhecimento”8. Ademais, ao tentar embasar e valorar o conhecimento teológico numa pretensa autonomia hermética da razão humana, o cientificismo teológico leva à idolatria, removendo Deus como fonte de toda objetividade teológica9 e a enraizando no intelecto humano. Além disso, ignora que a teologia é a resposta de um Deus pessoal se revelando, e a resposta de pessoas específicas que estão presentes em um tempo e espaço específico.
Envolvimento criativo
Esperar uma prática teológica não-enviesada é, por si só, um preconceito cientificista moderno. A realidade é que “[t]oda pessoa carrega em sua cabeça um modelo mental do mundo — uma representação subjetiva da realidade externa”10. Na verdade, em vez de ser tratado como acidente de percurso, é preciso reposicionar o aspecto subjetivo do método científico/teológico como parte essencial do processo, conclusão esta encontrada nos trabalhos do filósofo e cientista Michael Polanyi. Marcado pelo clima de guerra e atrocidades que assolou a Europa no início do século XX, Polanyi chegou à conclusão de que esse clima foi resultado de uma “concepção objetivista da ciência divorciada de uma base humana e moral”11. Por isso, era necessário encontrar uma alternativa à imagem científica moderna e de seu ideal de distanciamento científico. Portanto, Polanyi chega à conclusão de que “em cada ato de conhecer entra uma contribuição apaixonada da pessoa sabendo o que está sendo conhecido, e que esse coeficiente não é mera imperfeição, mas um componente vital de seu conhecimento”12.
Em primeiro lugar, Polanyi argumenta que todo conhecimento é conhecimento pessoal, enraizado na dimensão tácita, cuja influência na formação do conhecimento é enorme13. Essa dimensão corresponde a um conjunto de pressuposições no qual o conhecedor confia e alia inconscientemente a sua tarefa dita “consciente”. Assim, a compreensão presume participação ativa do conhecedor, o que alia um entendimento subjetivo ao ato objetivo de estabelecer um contato com uma realidade oculta14. O processo de conhecimento é também fiduciário, ou seja, parte da fé de um indivíduo em um conjunto de crenças e na participação em paixões intelectuais, idiomas e heranças culturais. Dessa forma, Polanyi ataca diretamente a moderna filosofia crítica que depositava toda sua confiança nos poderes racionais e empíricos da mente humana em detrimento da fé como fonte cognitiva15. Por fim, pela dimensão tácita e da natureza fiduciária do conhecimento pessoal, a tarefa da busca pela verdade exige a participação numa sociedade que “respeita e promove as paixões intelectuais”, que valoriza a verdade e segue acalentada pela epistemologia do conhecimento pessoal.
Essa visão encontra reflexo na perspectiva epistemológica bíblica16, que reforça o papel conjunto do corpo humano, do corpo social e do raciocínio lógico no processo de conhecimento17. É ao ouvir e responder fielmente à voz de Deus e de seus representantes que o povo de Deus tem a capacidade de compreender tudo em seu sentido correto18. Outrossim, a comunidade de fé é crucial para formar habilidades que fazem de uma pessoa alguém preparada para “perceber o que é significativo, discernir padrões e chegar a conclusões adequadas sobre a realidade”19.
Uma subjetividade (re)ordenada
Compreender a perspectiva subjetiva no conhecimento e a influência cosmovisionária na expressão doutrinária tem repercussões importantes para o fazer teológico. Mas, em vez de nos alavancarmos no círculo heideggeriano20, optamos pelo triângulo frameano21, isto é, o triperspectivismo. Compreender o mundo passa pela perspectiva existencial, mas “o uso correto de nossas capacidades subjetivas nos dará conhecimento das normas de Deus e dos fatos do mundo”22. Cada uma dessas perspectivas (existencial, normativa e situacional) são correlacionadas e mutuamente dependentes. Se a subjetividade é desgarrada das outras perspectivas, reforçamos ainda mais a bagagem relativista que o próprio conceito de cosmovisão carrega em si23. É necessário reafirmar que só há uma só verdade sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre Deus24, que por sua aliança conosco reclama sua autoridade em tudo o que fazemos25 (1Co 10:31), incluindo naturalmente o como e o que falamos sobre Ele e sobre a realidade que criou.
Outro resultado de olhar para nossa subjetividade triperspectivamente é perceber que o coração humano está empenhando na “fabricação de sistemas de crença idólatras em lugar de Deus”26. O pecado tem efeito noético que impacta diretamente o aspecto epistemológico, e, consequentemente, todo fazer teológico, já que leva o ser humano a reinterpretar a realidade de forma errônea27. Nossa esperança se encontra no “dinamismo do Espírito Santo”28, que restaura seres humanos como imago Dei, cujo “coração está sendo remodelado de formas substanciais pela verdade e pelas perspectivas das Escrituras, que fornecem um contexto narrativo pelo qual os crentes podem estabelecer sua própria identidade, dar sentido à sua vida e descobrir seu lugar no mundo”29.
A redenção ressalta a obra do Espírito como pressuposto para um conhecimento ordenado. Como Vanhoozer nos lembra, “conhecimento não é tanto uma questão de seguir procedimentos corretos (e.g. o método científico), mas de tornar o tipo certo de pessoa”30. Esse tipo certo envolve primeiramente uma sincera abertura para as Escrituras e fé nelas, para surgir uma “cosmovisão inteiramente nova e bíblica através da graça e redenção de Deus”31. Escutar a voz certa é essencial para uma epistemologia radicalmente bíblica32. Nossa teologia é marcadamente pessoal, mas ela continua sendo uma resposta a um Deus que se fez revelar, especialmente pelo roteiro canônico.
Além do amor à Escritura, o ser humano redimido procura aperfeiçoar seu trabalho teológico a partir do desenvolvimento e prática de virtudes intelectuais. Em resumo, ser “uma pessoa ‘sábia’ – uma pessoa com entendimento que sabe como viver o que conhece e o faz de maneira apropriada às suas circunstâncias”33. É praticar a fé, sendo alguém que teme ao Senhor e faz uma teologia centrada na Palavra, ao mesmo tempo que confia numa razão, que é inteligência humana criada, caída e redimida, e reconhece que existe uma diferença entre o que sabemos intelectualmente sobre Deus e nosso real crescimento espiritual. Ao mesmo tempo, falar a verdade alegremente e sofrer de verdade esperançosamente, sendo mártires para a verdade. Por fim, praticar, ao mesmo tempo, ousadia e humildade34.
Considerações finais
Cristãos são vocacionados a elaborar e compreender doutrinas firmadas nas Escrituras, mas que “não podem ser separadas de um contexto cultural, pois o evangelho é sempre expresso e corporificado em alguma cultura humana”35. Somos convidados a sermos imitadores de Cristo, que a nossa subjetividade, permitindo uma diversidade que enriquece o corpo de Cristo. Assim, teremos melhores condições de fazer uma teologia que aplica as Escrituras a todas as áreas da vida, de todas as pessoas. Continuamos enxergando “como que por um espelho embaçado” (1Co 13:12, paráfrase), mas redimidos por Cristo no caminho para que cada vez mais possamos conhecer, amar, viver com ele e glorificá-lo.
1NAUGLE, David K. Cosmovisão: a história de um conceito. Tradução: Marcelo Herberts. 1. ed. Brasília, DF: Monergismo, 2017, p. 246-255.
2FRAME, John. Teologia Sistemática. Tradução: Jonathan Hack e Markus Hediger. 1. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2019. v. 1, p. 66-87.
3SIRE, James W. Dando nome ao elefante. Tradução: Paulo Zacharias e Marcelo Herberts. 1. ed. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2012. p. 59ss
4Agrupamento das ciências que se utilizam da observação sistemática, experimentos e às vezes da matemática pura como obtenção de conhecimento.
5NAUGLE, op.cit, p. 386.
6GADAMER apud NAUGLE, op.cit., p. 325.
7DULCI, Pedro. O problema da ciência é o cientificismo. Disponível em: https://www.ultimato.com .br/conteudo/o-problema-da-ciencia-e-o-cientificismo. Acesso em: 15 fev 2024.
8NAUGLE, op.cit., p. 248.
9Ibid., p. 335.
10TOFFLER, Alvin apud SIRE, op.cit. p. 23
11NAUGLE, op.cit.
12POLANYI apud NAUGLE, op. cit., p. 247.
13NAUGLE, op.cit, p. 249.
14POLANYI apud NAUGLE, op.cit, p. 249.
15NAUGLE, op .cit., p. 250s.
16Dru Johnson relaciona a epistemologia de Polanyi com a encontrada nas Escrituras. Cf. JOHNSON, Dru. Filosofia bíblica: a origem e os aspectos distintivos da abordagem filosófica hebraica. Tradução: Igor Sabino. 1.ed. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2022, p. 292-319.
17JOHNSON, op.cit., p. 295.
18Ibid.
19Ibid., p. 297.
20“Toda interpretação que se coloca no movimento de compreender já deve ter compreendido o que se quer interpretar” (HEIDEGGER apud NAUGLE, op. cit., p. 398).
21FRAME, op.cit., p. 84s.
22Ibid., p. 85.
23NAUGLE, op. cit., p. 330.
24SIRE, op.cit., p. 43.
25FRAME, op.cit., p. 79.
26NAUGLE, op.cit, p. 349.
27Ibid., p. 352.
28DOOYEWEERD apud SIRE, op.cit., p. 35.
29NAUGLE, op.cit., p. 431
30VANHOOZER, Kevin J. O drama da doutrina: uma abordagem canônico-linguística da teologia cristã. Tradução: Daniel De Oliveira. São Paulo: Vida Nova, 2016. p. 320.
31CALVINO apud NAUGLE, op.cit. p. 365s.
32JOHNSON, Dru, op.cit., p. 288.
33VANHOOZER, Kevin J. Carta a um Aspirante a Teólogo: Como falar realmente de Deus. Tradução: Felipe Barnabé. Disponível em: https://monergismo.com/carta-a-um -aspirante-a-teologo-como-falar-realmente-de-deus-por-kevin-j-vanhoozer/. Acesso em: 13 fev. 2024.
34Ibid., n.p.
35GOHEEN, Michael W.; BARTHOLOMEW, Craig G. Introdução à cosmovisão cristã: vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea. Tradução: Marcio Loureiro Redondo. 1. Ed. São Paulo: Vida Nova, 2016, p. 20.
Acreditamos que o estudo teológico é fundamental para todo cristão, e não apenas para pastores ou líderes. Afinal, a teologia nos ajuda a seguir a Cristo em todos os aspectos da nossa vida!
No Loop, nossa equipe oferece suporte pedagógico e trilhas de estudo personalizadas para seus interesses, permitindo que você aprofunde seu conhecimento teológico e lide de forma segura com as situações do dia a dia.
Referências bibliográficas
DULCI, Pedro. O problema da ciência é o cientificismo. Disponível em: https://www.ultimato.com.br/conteudo/o-problema-da-ciencia-e-o-cientificismo. Acesso em: 15 fev 2024.
FRAME, John. Teologia Sistemática. Tradução: Jonathan Hack e Markus Hediger. 1. ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2019. 800p. v1.
GOHEEN, MIchael W.; BARTHOLOMEW, Craig G Introdução à cosmovisão cristã: vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea. Tradução: Marcio Loureiro Redondo. 1. Ed. São Paulo: Vida Nova, 2016. 272p.
HANSEN, Collin (org.) Devocional do catecismo nova cidade: a verdade de Deus para nossos corações e mentes. Tradução: Elizabeth Gomes. 1. Ed. São José dos Campos: Fiel, 2017. 238p.
JOHNSON, Dru. Filosofia bíblica: a origem e os aspectos distintivos da abordagem filosófica hebraica. Tradução: Igor Sabino. 1.ed. Rio de Janeiro: Thomas Nelson
Brasil, 2022. 400 p.
NAUGLE, David K. Cosmovisão: a história de um conceito. Tradução: Marcelo Herberts. 1. ed. Brasília, DF: Monergismo, 2017. 488p.
SIRE, James W. Dando Nome ao Elefante. Tradução: Paulo Zacharias e Marcelo Herberts. 1. ed. Brasília, DF: Editora Monergismo, 2012.
VANHOOZER, Kevin J. Carta a um aspirante a teólogo: Como falar realmente de Deus. Tradução: Felipe Barnabé. Disponível em: https://monergismo.com/carta-a-um -aspirante-a-teologo-como-falar-realmente-de-deus-por-kevin-j-vanhoozer/. Acesso em: 13 fev. 2024.
VANHOOZER, Kevin J.. O drama da doutrina: uma abordagem canônico-linguística da teologia cristã. Tradução: Daniel De Oliveira. São Paulo: Vida Nova, 2016. 512p.