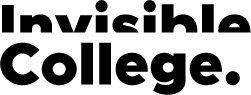Escrita por João Uliana Filho, tutor educacional do Invisible College
KUIPER, Roel. Capital moral: o poder da conexão da sociedade. Tradução de Francis Petra Janssen – Brasília, DF: Editora Monergismo, 2019. 310 pp.
“Este é um livro para a prática”, diz Roel Kuiper no prefácio do seu livro Capital moral: o poder da conexão da sociedade. Publicado originalmente em 2009, em holandês, a tradução para o português veio em 2019, pela Editora Monergismo (DF/Brasil). Roel Kuiper nasceu em 1962 nos Países Baixos. Além de historiador, filósofo e professor universitário, foi membro do Senado holandês entre 2007 e 2019, eleito pelo partido União Cristã.
Em Capital moral, Kuiper nos presenteia com uma análise profunda e biblicamente orientada das questões sociais. “Este livro é”, diz ainda no Prefácio, “em princípio, uma filosofia social” (p. 15). Significa que não se trata de uma análise histórica, tampouco de uma análise sociológica (isso quando ambas não se confundem), mas de uma meta-sociologia, que apreende princípios anteriores à casca social imediata. Kuiper passa, portanto, dos fatos aos valores, das estruturas aos fundamentos.
Escrevendo o prefácio em 2008, em meio a uma conhecida crise financeira de escala global, Kuiper é assertivo em considerar que nenhuma crise é isolada, antes, que “as crises vão se empilhando”, e enfim, todas “têm uma raiz comum em um estilo moderno de pensar e agir” (p. 15). É sobre esse “estilo de pensar e agir” que Kuiper discorrerá ao longo da obra, evocando conceitos da sabedoria bíblica, como pacto e shalom, para chegar à ideia mestra que unifica toda a obra, o conceito e a aplicabilidade de Capital moral. Além de uma Introdução e um Epílogo, a obra condensa onze capítulos, organizados em três partes: Parte I, Modernidade de moralidade; Parte II, A formação do capital; e Parte III, O bem comum. Sobre eles é que falaremos a seguir.
A Introdução da obra inicia-se com o questionamento a respeito da ideia de sociedade, diante da emblemática declaração de Margareth Thatcher, na revista Women’s Own: “Não existe algo como sociedade. Existem indivíduos homens e mulheres, e existem famílias” (p. 17). Diante disso, Kuiper pergunta: “Se não existe algo como uma sociedade, o que então, de fato, existe entre pessoas? Será que a conclusão deve ser que cada um está por si só?” (p. 17). Para além de uma definição abstrata de sociologia, conceituar sociedade indica o caráter prático do pensamento de Kuiper.
Quando ele identifica, por exemplo, “individualização e globalização” como problemas de uma “cultura do desprendimento” (p. 18), seus olhos estão descrevendo uma realidade social, e não criando conceitos particulares. Nesse sentido, sociedade se configura como “uma rede de relacionamentos de pessoas e estruturas sociais que se amplia e se desenvolve por interações entre si — em relações dialógicas — favorecendo todos os envolvidos” (p. 18-19), ou seja, tanto indivíduos como estruturas estão contemplados.
Desse modo, vê-se aqui um assunto que será, então, discutido ao longo da obra, especialmente no capítulo seis, Estruturas sociais e práticas morais. Trata-se da velha dicotomia social entre agente e estrutura, um “aparato conceitual […] infértil” (p. 150) que rege a sociologia moderna e abstrai aspectos da realidade e os sobrepõe. Não, para Kuiper, a sociedade possui um início moral que jamais pode ser desvinculado das ações, de agentes ou de estruturas, numa “equação heterônoma e dinâmica, um grupo cooperativo em que as pessoas aprendem a se doar a outros e a confiar umas nas outras” (p. 19). Sim, com as categorias certas, isso é possível, como será demonstrado.
Não obstante, é verdade que o cenário não parece ser adequado. Kuiper reconhece o medo e o “pânico social” vividos especialmente após a primeira década do século XXI, e, mais uma vez, sua análise não se permite ser superficial, nem mesmo instrumental. Não se trata, portanto, de criarmos engenharias sociais para resolver problemas, como o da crise de crédito de 2008, mas enxergarmos o verdadeiro problema, a “desmoralização da cultura ocidental” (citando Ralph Fevre, p. 21). A crítica serve, portanto, para apontar o conceito de “comunidade moral”, de Philip Selznick, para quem só as relações morais são capazes de gerar confiança social (p. 22).
Esses apontamentos são importantes para fundamentar a tese de Kuiper, exatamente porque o que se vê hoje não é exatamente a perda dos valores morais, mas sua completa inversão. A racionalidade moderna acaba por assumir o controle das relações humanas, transformando-as num contrato, como bem pareceu aos racionalistas e contratualistas de séculos passados. Eis o que ele entende por desmoralização, a racionalização dos aspectos morais da sociedade.
É aqui que Kuiper introduz o conceito de capital moral. Primeiramente adquirido das reflexões do sociólogo e educador francês Pierre Bourdieu e que depois foi ampliado por seus sucessores, Kuiper faz um uso próprio do termo, relacionando-o com sua base teórica mais profunda, a filosofia reformacional, conforme elaborada pelo jurista holandês Herman Dooyeweerd.
Em suma, capital moral é “a capacidade (individual e coletiva) de estar junto ao próximo e ao mundo de uma forma preocupada” (p. 24), onde preocupação se apresenta como amor e lealdade, ou, dizendo de outra forma, “é a capacidade individual e coletiva de estabelecer relações morais” (p. 25). É esta capacidade que conecta as pessoas, é esta a sua força ativa que Kuiper faz questão sempre de ressaltar como identidade prática. Seu local, ele diz, “são as práticas sociais”.
Outro ponto de singular importância para o autor é o trato que deve ser dado à moral por aqueles que desejam refletir sobre ela, ou mesmo aplicá-la como conceito para uma sociedade de relações. Kuiper não quer defender uma moral existencialista, nem mesmo relativista, nos moldes do historicismo. Sua fundamentação, mais uma vez, recai sobre a filosofia reformacional, para a qual “os princípios normativos não dependem da história (contingente), mas advém junto às estruturas do mundo criado” (p. 28). Sendo ainda mais preciso, dirá que “na realidade social manifesta-se uma normatividade moral que dá sentido e objetivo às práticas. A moral é um aspecto necessário e significativo das práticas sociais. É importante não perder de vista a própria irredutibilidade dessa moralidade” (p. 29).
Logo, tanto o social quanto a moral não estão arraigados neste mundo criado, mas advêm de fora, em transcendência, e, portanto, funcionam e significam em estruturas criacionais. Para aqueles mais acostumados com a filosofia de Herman Dooyeweerd os conceitos ficarão ainda mais claros, mas, de qualquer forma, a habilidade de Roel Kuiper em transformar a filosofia da ideia de lei1 em algo absolutamente compreensível torna a leitura e a compreensão bastante fluidas.
O livro que temos em mãos constitui, portanto, uma crítica social atualizada e extremamente pertinente. Suas partes e seus capítulos, como descritos a seguir, desenvolvem-se numa sequência bastante lógica e favorável à compreensão, partindo dos conceitos e análises para suas relações com o ambiente pós-moderno e aplicabilidade do conceito, até o epílogo, onde encontramos sugestões práticas para o uso consciente e intencional do conceito capital moral.
Na Parte I — Modernidade de Moralidade, com quatro capítulos, o autor faz uma análise do nosso tempo de maneira abrangente, alternando entre análises históricas e conceitos sociológicos de autores como Francis Fukuyama, Zygmunt Bauman e Anthony Giddens, entre outros. Como quem diz: “é preciso montar um quadro de exposição”, saber para o que exatamente estamos olhando, é fundamental, a fim de analisarmos e propormos algo novo.
O ponto de partida que dá título ao primeiro capítulo – Tempo de transformações – é a própria ideia de transformação. O que aconteceu com o mundo após a Segunda Guerra, especialmente nos EUA – vitoriosos (?) – que determinou os rumos das sociedades moderna e contemporânea? Kuiper, e esta é a relevância fundamental da obra, não restringe sua análise ao sistema político ou ao estabelecimento de novas fronteiras, tampouco a uma análise econômica, histórica ou existencial. Seu olhar é transversal, ultrapassando diversas áreas para montar um quadro descritivo e avaliativo abrangente o suficiente. Ao falar de um conjunto dinâmico de mudanças, envolvendo “informatização, globalização e individualização” (p. 39), Kuiper procura dar conta exatamente disso. Trata-se de um fenômeno complexo que não pode ser reduzido, mas também não pode ser deixado de lado em troca de uma superficialidade que nos acostumamos a ver em ensaios sócio-filosóficos.
É com essa perspectiva complexa que Kuiper fala, por exemplo, do processo de individualização e desprendimento, ou, do desenraizamento, como apontou Anthony Giddens. A modernidade conta com uma perda da identidade que não diz respeito só ao indivíduo, mas a uma identidade coletiva, que outrora fundamentou a existência individual. Esta crise de valores, contudo, não nasce simplesmente do descompromisso moral; pelo contrário, ela nasce de uma mudança, de uma inversão de paradigmas, de um novo e complexo status moral que afetará família, Estado e as demais instituições. Sendo “o homem na modernidade o seu próprio projeto” (p. 45), onde ele estiver a transformação estará em curso.
Dessa inversão nascem as utopias, como será argumentado no capítulo dois – Encantamento utópico. Kuiper trabalha o conceito de utopia desde o Renascimento e como ele surge como uma alternativa em tempos de insegurança, não só entre humanistas como Thomas More (século XVI), mas também entre protestantes radicais, como os anabatistas. Com a secularização, a esperança no progresso científico e tecnológico assume dimensões utópicas. É a “secularização das expectativas futuras cristãs” (p. 72), a imanentização do transcendente salvífico. Contudo, essa perspectiva rompe com o telos, e mais uma vez vemos o processo de desenraizamento se expandindo em outras frentes. Liberdade e felicidade agora estão no horizonte utópico de uma sociedade fragmentada.
No capítulo três, Esquecimento moral, Kuiper deixa claro como “o pensamento instrumental com sua tendência construtivista passa a ser a maneira como o homem moderno se comporta em relação ao seu mundo” (p. 78). Ou seja, o sistema de vida foi tecnicizado, afetando diretamente a moral. Diante da desconfiança do mundo fragmentado e moralmente instável, a técnica surge como uma alternativa para prática social. Aqui entram os contratos, os acordos, e, por conseguinte, a perda da intersubjetividade. Se o objetivo foi a exaltação do indivíduo e dos ideais de liberdade e felicidade, abandonar o indivíduo passa a ser a alternativa para a sociedade conter a sua própria natureza. Sim, há um paradoxo intransponível aqui.
Isso nos leva, então, ao capítulo quatro – O paradoxo da individualização. A individualização nos colocou de frente a nós mesmos e solitários com as nossas próprias circunstâncias. É o ápice do desenraizamento e da fragmentação social. O peso psicológico disso é enorme. Kuiper utiliza um termo cunhado pelos sociólogos Ulrich Beck e Anthony Giddens – reflexividade, ou seja, tudo acontece a partir de mim, toda escolha parte do “eu sou eu” (p. 105). Esta é a completa subjetivação do sujeito, a absolutização do eu, que passará, então, daquele que desfruta de uma pretensa liberdade e felicidade para alguém que agora é responsável pela liberdade e pela felicidade de si. Kuiper apresenta quatro críticas a esse sistema que nos fazem perceber como o conceito é insustentável, e, realmente, não precisamos mais do que a realidade pós-moderna para percebermos o abismo disso.
Diante de uma crise moral, que transpassa tantos aspectos da realidade num todo dinâmico e complexo, não são utopias coletivistas, esperanças narcisistas ou a subjetividade absoluta que nos salvará. Na tese de Kuiper, precisamos de capital moral, e isso “depende da vivência de obrigações morais num presente concreto” (p. 120). Nas suas palavras:
A modernidade, como vimos, tenta passar por esse presente concreto através de várias projeções utópicas. O presente concreto é a imperfeição que precisa ser superada pela projeção de uma existência melhor no futuro. Além desses encantamentos utópicos, ainda há a negligência do moralmente concreto pela duplicação da realidade resultante dos ideais científicos modernos. A realidade sistemática do pensamento instrumental forja uma nova realidade que faz com que as pessoas se alienem do concreto. O local da moral sem dúvida não está na abstração científica, mas na relação concreta, e desta é abstraído continuamente. Quando essa alienação de una realidade concreta também afeta a intersubjetividade humana, nada mais resta ao homem pós-moderno do que construir a sua vida a partir de suas experiências subjetivas (p. 120).
Na Parte II – A Formação do capital moral, Kuiper faz uma espécie de antropologia das estruturas sociais. Com três capítulos, designa-se a descrever, nas bases das estruturas do ser humano, porque “não podemos prescindir da moral para uma existência social saudável numa sociedade bem conectada” (p. 121), como é apontado no capítulo anterior. Nesse sentido, o capítulo cinco – O homem cuidador, trata da natureza humana, retomando ideias criacionais que falam da natureza humana como algo irredutível, idêntica apenas a si mesma.
Essa natureza, contudo, não pode sobreviver de outro modo senão no dialógico, no relacional. É importante salientar que, diferente das teorias modernas, o dialógico jamais remove a alteridade do outro, não absorve o outro e nem se permite ser absorvido por um espírito coletivo. A relação, contudo, permanece em duas direções, sendo a primeira aquela que aproxima o outro e permite uma relação construtiva e a segunda, a que mantém a diferença, e exige, portanto, o caráter moral, para uma conexão saudável (p. 132).
Aqui, um conceito importante na argumentação de Kuiper é explicitado. Se capital moral é uma presença preocupada com o outro, que pede por conexões morais, a atitude antropológica será uma atitude preocupada com o outro, invertendo, assim, o que pensam certos filósofos, como Martin Heidegger, para quem a experiência primária da vida era o medo da morte. Kuiper, ao contrário, argumenta que a experiência primária do ser humano é positiva, voltada à vida, ao “ser”. Assim, “o medo da morte é substituído pelo amor pela vida” (p. 136) É essa experiência que permite falarmos de um caráter “sagrado” ao outro, e nos colocarmos diante dele numa atitude de amor responsável.
É nessa estrutura dialógica que funciona o pacto, outro conceito caro à obra de Kuiper. Ao descrever contrato e pacto, o autor mostra a insuficiência do contrato2, visto que ele parte do princípio de um “acordo entre iguais”, o que não corresponde à realidade, enquanto o pacto não desconsidera as diferenças, mas atua sobre elas e em favor delas, mantendo-as e, ao mesmo tempo, aproximando o outro tanto quanto seja moralmente necessário. O exemplo máximo disso é a família. Há diferenças entre pais e filhos, por exemplo, mas as conexões morais permanecem sólidas e permitem o desenvolvimento e a satisfação de ambos.
O capítulo seis — Estruturas sociais e práticas morais, dá um passo além. Ao analisar as estruturas sociais, Kuiper indica que elas são o contexto onde o capital moral será formado (p. 148). Nota-se aqui que a importância das instituições é imprescindível, a começar pela família, onde laços fortes são construídos. Assim, no capítulo sete, Pacto e contrato, ficará claro como o pacto — “um compromisso [fundamentado] com uma promessa” (p. 189) — é um paradigma para a nossa sociedade, baseando-se não apenas numa gramática religiosa — especialmente cristã — mas num fundamento real e de ordem criacional. Em um mundo permeado pelo desenraizamento e fragmentação, frustrado e inseguro quanto ao futuro, o compromisso pactual, fundamentado no compromisso que o Deus Criador tem com a sua Criação, constitui-se como o único fundamento sólido capaz de dar coerência à realidade.
Na Parte III, O bem comum, o autor discute determinados núcleos sociais e como o capital moral não só pode desenvolver esses núcleos particulares, como está no fundamento de cada um deles e, portanto, no fundamento da sociedade como um todo coerente. No capítulo oito — Relações responsáveis: parceria e fraternidade, Kuiper aborda as relações familiares, as relações de fraternidade e as relações de amizade. Falando sobre a família, e ciente das tensões que a atingem direta ou indiretamente, por fora e por dentro, Kuiper aponta algo fundamental. A família é o “ambiente de vida primário” (p. 199), ou seja, é ali que a vida começa, e é ali que as primeiras relações acontecem. É este o ambiente primário de produção de capital moral.
Com efeito, numa sociedade, como demonstrado anteriormente, fundada em raízes de liberdade e felicidade individualista, fragmentada desde o interior do indivíduo que não se vê mais como parte do todo, a relação familiar parecerá retrógrada e infrutífera, e não só isso, mas também impossível. No entanto, o argumento de Kuiper responde objetivamente a essas questões, quando vê a necessidade da família diante dos desafios pós-modernos, e no modelo familiar fundado sobre o pacto, ou melhor, sobre a promessa pactual.
Não é um compromisso contratual que obriga o empenho responsável na família, mas a promessa pactual que ressoa entre os membros dela. Fraternidade e amizade nascem das mesmas conjunções que a família é capaz de gerar em suas relações. Por isso, o caráter excepcional dela não pode ser sonegado em vista de outras relações que não são capazes de se sustentar a si mesmas, ainda que fundadas num contrato formal. Dessa relação, amplia-se, no capítulo nove — A comunidade política: dimensões morais do direito, o núcleo de relação moral para a comunidade política, ou, em outras palavras, ao estado de direito.
Antes de lidar com questões próprias da atividade governamental dos Estados, Kuiper sinaliza algo anterior, das bases do próprio Estado. Como ele mesmo diz, este capítulo visa “argumentar que a atividade do Estado é uma condição para as relações morais gerais numa sociedade bem conectada” (p. 220). Seu interesse maior, portanto, será o de demonstrar como o Estado se envolve, sim, em questões morais. Ele não apenas determina verticalmente as ações do indivíduo ou das massas, solapando as individualidades, mas rompe com os processos democráticos ou ainda absolutiza os mesmos.
Realmente, “trata-se de um desejo por um Estado em sua forma pactual, um governo que se empenha pela sociedade como comunidade moral” (p. 221), um Estado capaz de promover o amor responsável. Dessa forma, o Estado não perde a sua função reguladora e normativa, mas também não desconsidera que atua sob uma base reguladora, o pacto – que traz a autoridade externa necessária para a ação normativa do Estado. Sem essa dinâmica, o Estado torna-se incapaz de garantir a regulação, ou, no afã de garanti-lo, transforma-se numa ditadura ou algo do gênero.
No capítulo dez, A sociedade como pacto: o bem comum, o autor continua explorando o conceito de pacto social. Partindo da ideia de pluralidade social, Kuiper vê nessa característica a “condição para o bem comum” (p. 246). Além de uma “disponibilidade de perspectivas”, a pluralidade indica também “a presença do outro” (p. 246), o que nos coloca novamente em uma relação moral, que exige capital moral, e, sem ela, leva tudo à ruína. A sociedade não pode ser destituída de sua pluralidade.
Reducionismos e absolutismos confirmam, de maneiras diametralmente opostas, o fracasso da sociedade como tal, como ambiente de produção e vivência moral. É nesse sentido, resgatando o conceito kuyperiano de soberania das esferas, que Roel Kuiper assume as relações entre Estado e Igreja, por exemplo. Essa longa tradição, desde Calvino, Althusius, Kuyper e Dooyeweerd, contempla uma igualdade complexa que clama e produz capital moral.
Contudo, é claro que essa complexidade precisa de alguns arremates, sendo essa a proposta do capítulo onze — Arremates morais: civilização e religião. Há um ponto de extrema importância aqui, já nas páginas finais da obra. Roel Kuiper articula o pressuposto de que há uma diferença expressiva entre a condição social e os valores que se tornam válidos numa civilização. Ou seja, a compreensão moral não é um produto dado na própria condição social, ele precisa ser gerado. “A parte nobre no homem só é alcançada quando confrontada com valores que ele mesmo não produz” (p. 273). Assim, temos uma das mais importantes afirmações da obra de Kuiper: “A ideia moral de uma civilização forçosamente se apoia numa base religiosa” (p. 273).
Obviamente, Kuiper não está se referindo às religiões institucionalizadas. Sua opção é a de uma “força motriz (…) que gera uma determinada dinâmica cultural e social” (p. 274) religiosamente orientada. Lembrando da herança dooyeweerdiana fundante do pensamento de Kuiper, compreende-se que o papel da religiosidade está inescapavelmente no coração do ser humano, bem como de suas construções e decisões culturais. É dali que emergem, religiosamente, as fontes da vida3. Assim, uma divisão radical entre o que é de âmbito religioso e o que seria a sociedade-sem-religião é impossibilitada por princípio. Se é verdade que “uma civilização é o epítome de uma ideia moral” – também é verdade que – “ela mesma não consegue consolidar essa ideia moral (…), em outras palavras: a ideia moral de uma civilização surge por meio de um apelo religioso ao homem” (p. 276).
Somente assim podemos compreender o valor da promessa como suporte do pacto. Isso envolverá a preocupação amorosa pelo outro, a lealdade entre indivíduos e instituições para a participação do e para o bem comum, para o “shalom, que vai além de todos os conceitos” (p. 279). Fechando a obra, o Epílogo traz algumas breves, mas importantes, ampliações de temas já tratados no interior da obra como o comprometimento dialógico para o bem comum e o funcionamento dinâmico das estruturas pactuais.
Por fim, longe de ser uma versão ingênua de ética, “o capital moral é um patrimônio de pessoas que primeiramente aprendem em relações pactuais o que é adotar uma atitude fundamental preocupada em relação ao que se apresenta na realidade cotidiana” (p. 148). Assim, Capital moral: o poder de conexão da sociedade é uma obra de caráter singular, de interesse público, não só para teólogos ou filósofos da religião. Apesar de ser um texto oriundo do pensamento Reformado – reformacional, especialmente – não há nele um capítulo especialmente dedicado à Igreja ou à teologia reformada. Todavia, um bom leitor, consciente da obra que possui em mãos, dará conta de perceber a perspectiva fiel do Dr. Roel Kuiper, cuja leitura é recomendadíssima.
1 Filosofia da ideia de lei, ou, filosofia da ideia cosmonômica, é como ficou conhecido o sistema filosófico de Herman Dooyeweerd.
2 Tal conceito provém do contratualismo, doutrina que “reconhece como origem ou fundamento do Estado (ou, em geral, da comunidade) uma convenção ou estipulação (contrato, grito nosso) entre seus membros. Essa doutrina é bastante antiga e, muito provavelmente, os seus primeiros defensores foram os sofistas”. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 205.
3 “Embora Kant em sua Crítica da Razão Pura tivesse revertido a tradição da razão ocidental ao mudar a ênfase da primazia dos objetos independentes para as categorias a priori da mente subjetiva, Dooyeweerd mudou a ênfase das categorias a priori, universais, da mente humana para as afeções universais do coração humano [as fontes da vida, ênfase nossa]. Teoria e prática são um produto da vontade, não do intelecto; do coração, não da cabeça; Ao fazer essa proposta, Dooyeweerd apresentou sua “nova crítica do pensamento teórico” contra Kant, na premissa de que a religião é extremamente transcendental. A religião não está mais incluída nos limites da razão, mas a razão está incluída nos limites da religião, como tudo o mais na vida” (grifo nosso). NAUGLE, David. Cosmovisão: a história de um conceito. Trad. Marcelo Herberts. Brasília: Monergismo, 2017, p. 56.