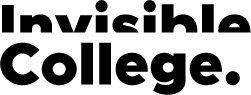Escrito por Larissa Cristhina Giron Ferreira Vianna, estudante do Programa de Tutoria Essencial 2023
Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, é uma famosa obra da escritora britânica Mary Shelley (1797-1851). A narrativa é considerada precursora da ficção científica, pois o eixo central do enredo gira em torno da experiência de Victor Frankenstein, um cientista que decide dar vida a uma criatura por seus próprios meios. Publicada pela primeira vez por volta de 1818, a obra relata os esforços de Frankenstein em sua empreitada: o cientista buscou em cemitérios diferentes partes de cadáveres humanos, unindo-os até formar um corpo animado por meio de estímulos elétricos.
Apesar do êxito, criador e criatura seguem um caminho marcado pelo ressentimento e pela vingança. Por sua aparência amedrontadora, o monstro é abandonado e passa a viver isolado nas florestas até que se lança em um caminho de perseguição àquele que o criou, matando seus amigos e entes queridos. O romance conta com diversos pontos que podem se desdobrar em reflexões importantes sobre as relações humanas, mas, sem sombra de dúvidas, se destaca o seguinte drama: o fato de ser fragmentado, formado por partes mortas de pessoas diferentes fez, de uma invenção tida como promissora, um grande pesadelo.
Toda a trama, bem como os personagens, refletem o contexto da autora. Mary Shelley viveu em meio ao fervilhar das ideias iluministas do século XVIII e do romantismo do século XIX. Seu pai era o filósofo William Godwin (1756-1836). Sua mãe, Mary Wollstonecraft (1759-1797) é considerada um dos primeiros expoentes do feminismo no Ocidente com a publicação de Uma reivindicação dos direitos da mulher (1792). Contudo, apesar da distância temporal e do prisma para interpretar a realidade, a obra de Mary Shelley pode ser mobilizada como alegoria para pensar as consequências de quando a igreja se compromete com a cosmovisão de um tempo histórico específico ao invés de manter o seu olhar fixo na metanarrativa bíblica. Essa associação será feita por meio da exposição de algumas cosmovisões ao longo do tempo.
Michael Goheen e Craig Bartholomew discorrem sobre as bases da cultura ocidental e as teias ideológicas que desafiam os cristãos em diferentes tempos a permanecerem fiéis ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo:
Nosso lugar na narrativa bíblica é encarnar a boa notícia de que Deus está restaurando a criação. Esse testemunho encarnacional será sempre contextual; ele tomará forma e será moldado em um contexto cultural específico, de acordo tanto com a época quanto com o lugar em que Deus nos coloca. E, uma vez que cada contexto cultural apresentará suas oportunidades e perigos peculiares, nossa fidelidade exige que conheçamos nosso próprio contexto cultural (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 109).
Desse modo, os autores se debruçam sobre alguns séculos de história, destacando como os contextos históricos do Ocidente foram palco para sínteses que buscavam mesclar o cristianismo com outras crenças, indo de encontro à noção de que as Escrituras são o prisma pelo qual devemos enxergar o universo e tudo o que nele há. Essa mesclagem comprometeu, em diferentes momentos, a explanação saudável e fiel das boas novas do evangelho.
Ao olharmos para o período medieval, sobretudo a chamada Idade Média Antiga, é possível enxergar as rusgas engendradas por meio da influência platônica no discurso cristão. A supervalorização do metafísico em detrimento do mundo material levou inúmeros cristãos a contemplarem uma vida espiritual, considerando-a desconectada e superior à condição humana. Essa percepção configurou um entendimento dualista de mundo endossado por pensadores como Tomás de Aquino, cuja síntese apontava a divisão do mundo em dois andares. No superior, a esfera espiritual, estavam a alma, a Igreja, a vida cristã, a fé, a teologia etc. Já no inferior, a esfera material, estavam o corpo, a sociedade, a vida cultural, a ciência, as leis naturais etc. Embora Aquino entendesse que o “andar inferior” estava constantemente submetido ao “andar superior”, essa percepção acabou servindo de combustível para um amplo movimento de secularização e emancipação da esfera material para com a cosmovisão bíblica (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 126).
Resultados práticos dessa síntese despontaram com os pensadores da Renascença e da filosofia humanista. Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), expoente da filosofia humanista, defendia a autonomia humana, argumentando que o ser humano poderia mudar sua própria condição natural por meio do exercício de suas capacidades intelectuais. Essa perspectiva é explicada por Schaeffer:
O humanismo, em seu sentido mais amplo, mais inclusivo, é o sistema pelo qual homens e mulheres, partindo absolutamente de si mesmos, procuram racionalmente construir a partir de si mesmos, tendo exclusivamente o homem como ponto de integração, para encontrar todo o conhecimento, significado e valor (SCHAEFFER, 2016, p. 23).
No entanto, as Escrituras deixam claro que o homem não é o parâmetro pelo qual o mundo deve ser lido, nem ao mesmo tem meios para mudar a condição de sua própria existência: “Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só” (Romanos 3:10-12). No que segue, o iluminismo do século XVIII catalisa a fé na ciência e na razão humana, baseada na empiria. O método científico sobressai como uma grande lente pelo qual o mundo deveria ser observado e entendido. Desse viés brotaram crenças como o deísmo. Essa tendência compeliu o evangelho a uma esfera pessoal de valores, tentando torná-lo cada vez menos válido como discurso para ponderar sobre os elementos da vida pública (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 150).
O método científico, tido como válido e coerente para a organização da sociedade, culminou em mudanças drásticas ao longo dos séculos subsequentes. O período conhecido como a Era das Revoluções modificou a paisagem, as relações familiares, e até mesmo a maneira de se relacionar com o tempo. O tempo da natureza foi substituído pelo relógio das fábricas e a discrepância das condições de vida entre aqueles que tinham mais ou menos riquezas tornou-se um solo fértil para que novas explicações sobre o mundo surgissem. O liberalismo enfatizava a soberania do indivíduo e entendia o sofrimento como um fator necessário para o progresso (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 155). Já o marxismo fez brotar a concepção do materialismo histórico, segundo o qual o progresso é explicado pela relação existente entre o trabalho e a riqueza produzida. Para Karl Marx, seu idealizador, a luta de classes é a força motriz para as mudanças na história (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 155).
Entretanto, a ânsia pelo progresso, ampliada pela competitividade, interesses políticos e ambições de hegemonia econômica convergiu em guerras sangrentas que eclodiram no século XX, sendo a I Guerra e a II Guerra Mundial duas das mais notáveis. Os horrores da guerra deram lugar a um amplo sentimento de desilusão e ceticismo e lançaram os embriões do que se tornaria a pós-modernidade. Autores como Michel Foucault (1926-1984), Judith Butler (1956), Gilles Deleuze (1925-1995) e Jacques Derrida (1930-2004) trazem à tona a ideia de que o mundo é um lugar subjetivo, que nada é fixo e que não há estrutura sólida e permanente. Na linha de chegada do percurso histórico até o tempo presente, são as teorias desses autores que se evidenciam como grandes desafios para o cristão contemporâneo. Afinal, como explicar a imutabilidade de Deus para uma geração que se lança na fluidez e rejeita o que é sólido?
É certo que nos diferentes contextos a igreja do Senhor sobreviveu e sobrevive. Em meio ao humanismo do século XVI, foram levantados os reformadores. No ceticismo científico do século XVIII, Jonathan Edwards (1703-1758) conclamava as pessoas ao arrependimento de seus pecados. Em meio às ameaças do totalitarismo e das guerras, Corrie Ten Boon (1892-1983) e Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) não comprometeram a pregação do evangelho com a política de seu tempo. Hoje, homens e mulheres ainda permanecem resistentes não sendo moldados pela cultura, mas buscando influenciá-la como embaixadores de Deus, no cumprimento do mandato cultural.
Contudo, as nuances ideológicas realçadas pela história chamam a atenção para o perigo constante de diluir a verdade bíblica nas filosofias destas figuras, travestidas como primorosas criações. Elas esmaeceram as verdades necessárias e buscaram substituir a narrativa bíblica por concepções imperfeitas. Inúmeros Frankensteins surgiram pelo caminho, formados por diversas partes de ideias cadavéricas, que contribuíram para a morte de gerações e, assim como o monstro de Mary Shelley, foram tentativas frustradas de compor um propósito real para a existência humana.
Assim, a igreja permanece em uma intersecção, andando em um campo minado cultural. É necessário se fazer presente e dialogar com o tempo onde está inserida, sem perder de vista a narrativa das Escrituras de criação, queda e redenção (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 31), pois, conforme chamam atenção Goheen e Bartholomew, uma das pedras basilares da cosmovisão bíblica é o fato de que “o mundo está saturado da presença de Deus” (BARTHOLOMEW; GOHEEN, 2019, p. 64). Que a igreja permaneça fiel em projetar essa certeza em meio aos monstros criados ao longo das nossas gerações.
Acreditamos que o estudo teológico é fundamental para todo cristão, e não apenas para pastores ou líderes. Afinal, a teologia nos ajuda a seguir a Cristo em todos os aspectos da nossa vida!
No Loop, nossa equipe oferece suporte pedagógico e trilhas de estudo personalizadas para seus interesses, permitindo que você aprofunde seu conhecimento teológico e lide de forma segura com as situações do dia a dia.
Referências bibliográficas
BARTHOLOMEW, Craig G.; GOHEEN, Michael W. Introdução à cosmovisão cristã: vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea. Trad. Márcio Loureiro Redondo. São Paulo: Vida Nova, 2019.
SCHAEFFER, Francis. O Deus que intervém: o abandono da verdade e as trágicas consequências para a nossa cultura.. Trad. Gabrielle Greggersen. .São Paulo: Cultura Cristã, 2016.